Como (re)fazer amigos e influenciar pessoas no Brasil de 2019
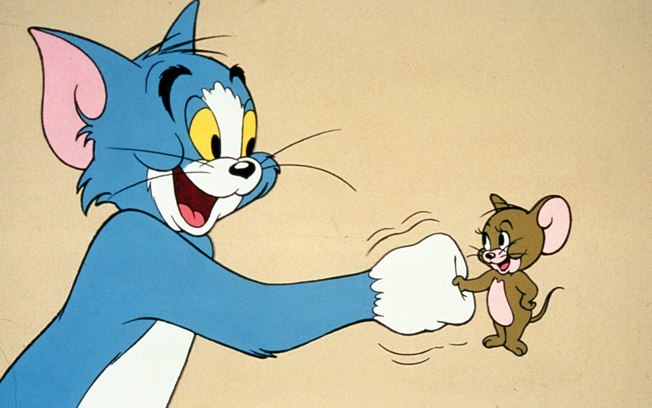
Foto: Reprodução
Dois dias após a eleição, decidi baixar a guarda e refazer os contatos que deixei para trás como um rastro de destruição*.
Era uma estratégia de sobrevivência: nos eventos sociais, minha baixa empolgação com o resultado das urnas rendeu alguns apelidos colados às minhas costas, e nenhum deles era muito abonador.
Entre tantas ofertas imperdíveis para migrar para Cuba ou para a Venezuela, nada era pior do que encontrar, face a face, algum desafeto no elevador e com ele subir intermináveis andares no mais absoluto silêncio.
Aos 36 anos, um filho para criar, sem muito o que dizer nem com quem conversar, percebi, finalmente, que estava por fora. Da moda e da nova ordem.
Decidi, então, fazer um detox e me repaginar diante do novo dia de um novo tempo que começou. Treinei a fala diante do espelho, engoli o choro (porque no novo dia do novo tempo que começou chorar é sinal de fraqueza) e falei para mim mesmo: "agora essa cambada de vagabundo vai ter que trabalhar".
Foi libertador.
Nas rodas de conversa, sobretudo entre os adultos das festas infantis, essa frase distribuída a rodo era uma espécie de green card para um universo caloroso e receptivo. Era como oferecer doce para criança, osso para cachorro, pochete para tiozão.
Os olhos persecutórios de repente davam lugar a um coração saltado pelo globo ocular, como um emoji.
Na palma da mão, anotei todas as ferramentas para usar toda vez que o assunto murchava. Minha sensação de pertencimento era alimentada por frases como "este mundo está muito chato", "o politicamente correto destruiu o país", "a vó Regina era mulher de verdade", "miséria é opção ou preguiça", "o coitadismo acabou", "direitos humanos para humanos direitos", "e o dia da consciência humana?" (aplausos, aplausos, aplausos).
Quando vi, estava abrindo vinho Malbec na sacada gourmet, guardando a rolha em garrafão, e reclamando de tudo com todos os amigos de todas as infâncias. O ódio era uma grande força catalisadora: odiar nos unia, e para nos unir valia destilar ressentimento contra tudo o que nos desmentisse ou desmerecesse nossas conquistas.
O ódio nos fortalecia. Entre pontos de exclamação e caixa alta, ele levava qualquer um de nós, mesmos os mais inseguros, ao topo da supremacia humana, inclusive aquele parente boquirroto que abandonou oito vezes a faculdade e tem no currículo uma série de carros (dos pais) detonados e fracassos afetivos por motivos de ninguém o suporta, só os pais.
Todos, ele inclusive, estavam convictos de que eram seres incompreendidos, vítimas de movimentos feministas ou de governos anteriores que privilegiaram grupos que queriam mamar nas tetas da Rouanet e agora teriam de trabalhar. Agora se sentiam empoderados para desfilar na própria Marcha: a Marcha do Orgulho Ogro.
O ogro é pop. O ogro é top.
Fui assim adicionado novamente aos grupos de WhatsApp e na primeira troca de mensagens da nova era recebi daquele colega de escola um meme sobre o novo "Bolsa Família": uma bolsa com várias ferramentas que, a partir de janeiro de 2019, seria usada para sustentar a própria família sem ajuda do governo. Queria perguntar se ele finalmente deixaria a bolsa ou a teta dos pais, mas preferi manter a amizade e a elegância com um ingênuo KKK.
Como consegui me livrar da doutrina comunista-gayzista-bolivariana e migrar para o lado patriótico 2.0 da força (aquele lado patriótico que aceita todos os brasileiros, menos quem não vota com a gente ou tenha outro sotaque)?
A resposta é simples. Eu tirei de casa tudo o que me doutrinava e doutrinava minha família. A começar pelos gibis da Turma da Mônica, tomados de mensagem subliminar ao estilo Girls Power, troquei meus autores de referência por YouTubers, desmascarei o globalista que havia em mim, compreendi que era o Foro São Paulo, e não as amarras do colonialismo ou da escravidão, que estrangulava meu país e passei a aceitar que todos os males que acometiam os brasileiros era porque eles não se esforçavam o suficiente para sair daquela situação – sobretudo quando deixavam de empreender nas quatro horas diárias perdidas no trânsito para o trabalho e do trabalho para casa.
Ah, sim: em casa troquei o verbete "ditadura" por "revolução gloriosa" e consegui ver o cidadão de bem que havia no vizinho violento que no fundo no fundo só precisava de atenção e uma arma para compensar a disfunção erétil.
Para quem imaginava um regime de contrição, nunca a palavra liberdade fez tanto sentido como agora: todos estamos livres, sem as amarras do superego, dos olhares de reprovação, das dúvidas sobre nossa insignificância ou do politicamente correto, para despertar o mito que vivia em nós.
Seguimos todos na mesma vidinha. Mas pelo menos não estamos sós.
*Esse texto é uma simples paródia. Por sorte, ainda posso circular entre bons amigos e familiares que fizeram suas escolhas eleitorais sem necessariamente tropeçar em nenhum desses clichês, ataques ou preconceitos para entrar na moda. É com eles que seguiremos.















ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.